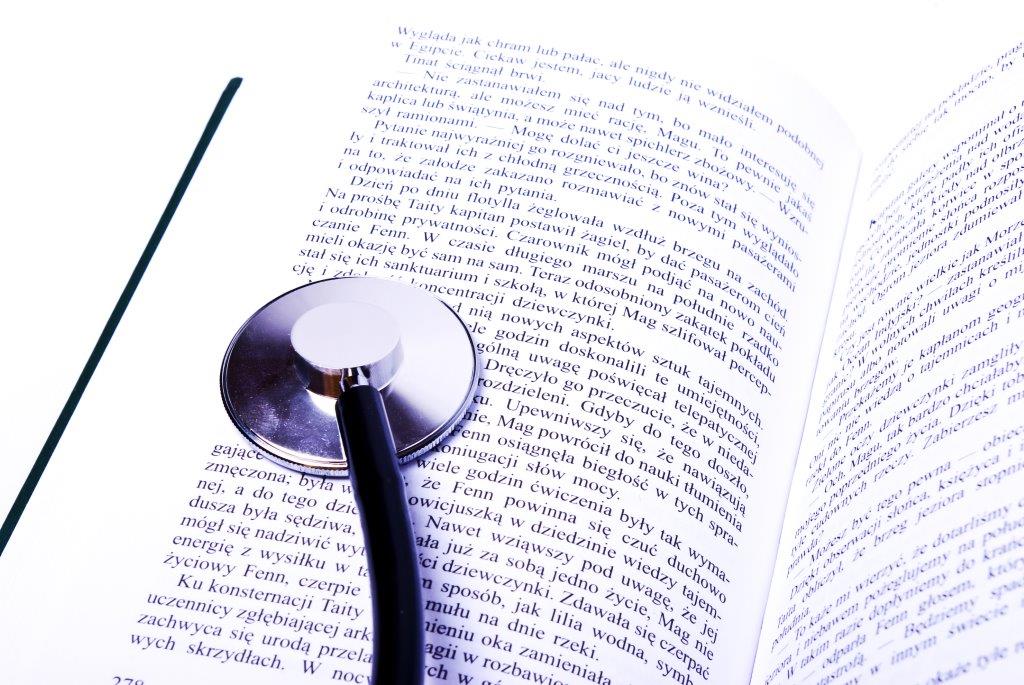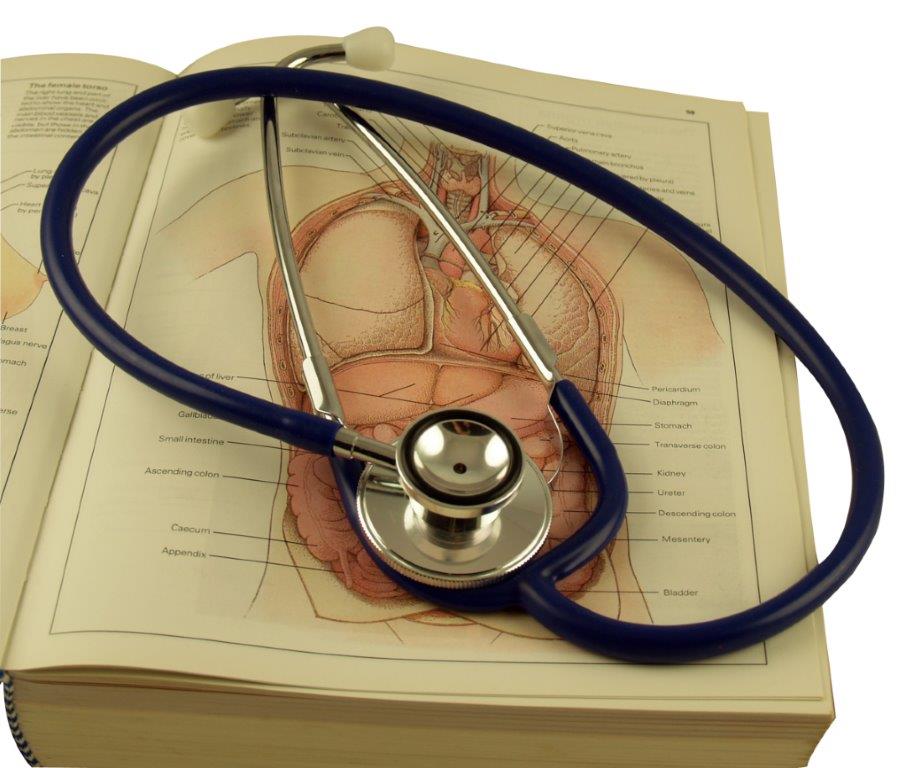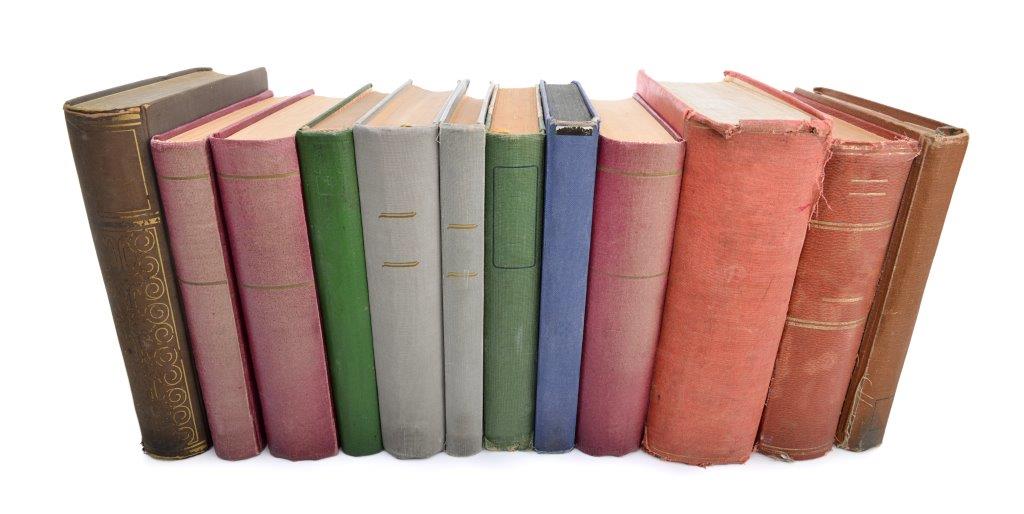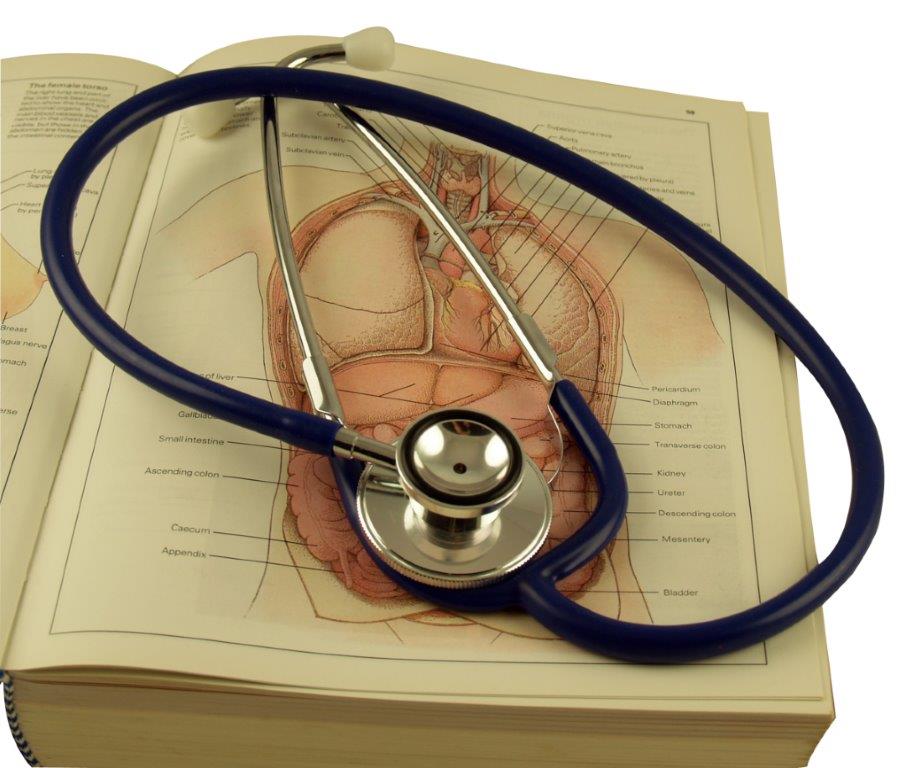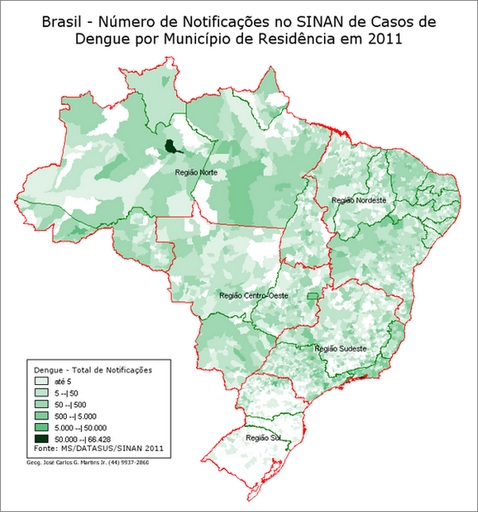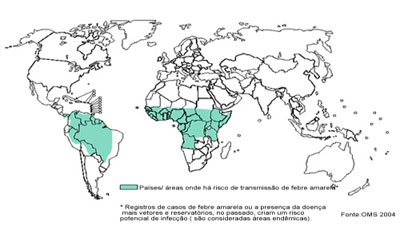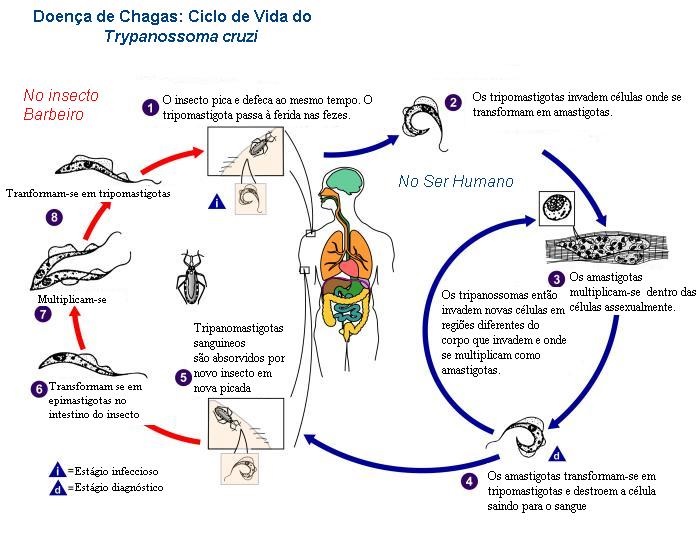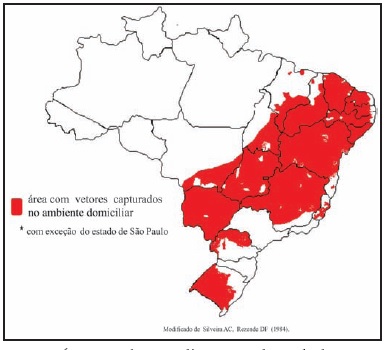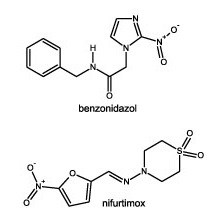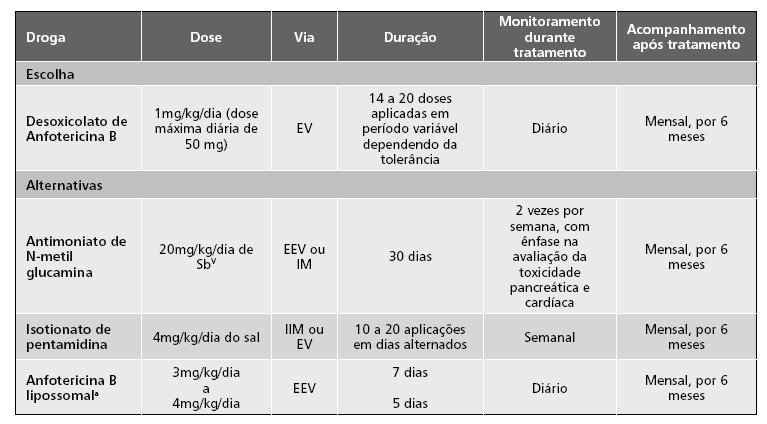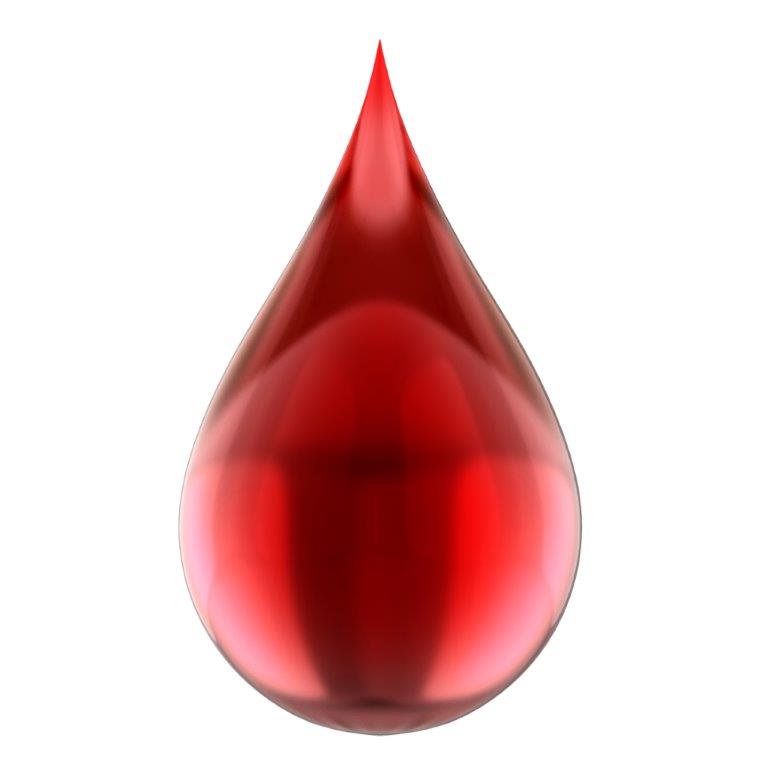A
Abdominal Cavity - Cavidade Abdominal
Abdominal Echotomography - Ecotomografia Abdominal
Abdominal Tuberculosis - Tuberculose Abdominal
Abdominal Ultrasonography - Ecografia Abdominal
Abdominalgia; Celialgia; Abdominal Pain - Dor Abdominal
Abortion - Aborto
Abscess - Abcesso
Acetone Bodies - Corpo Cetónico
Acidosis - Acidose
Acquired Immunity - Imunidade Adquirida
Acute Appendicitis - Apendicite Aguda
Acute Bronchitis - Bronquite Aguda
Acute Hepatitis - Hepatite Aguda
Acute Peritonitis - Peritonite Aguda
Acute Toxicity - Toxicidade Aguda
Additional Doses - Dose Adicional
Adenitis - Adenite
Adenocarcinoma - Adenocarcinoma
Adenoidectomy - Adenoidectomia
Adenomegalia - Adenomegalia
Adenopathy - Adenopatia
Administered Dose - Dose Administrada
Adrenal Glands - Glândulas Supra-Renais
Adrenalitis - Adrenalite
Adynamia - Adinamia
Agglutination - Aglutinação
Agranulocytosis - Agranulocitose
Alanine Transaminase (ALT) - Alanina Aminotransferase
Albumin - Albumina
Alcoholism - Alcoolismo
Algid Malaria - Malária Álgida
Allergic Reaction - Reacção Alérgica
Allergy - Alergia
Alopecia - Alopecia
Alternative Therapy - Tratamento Alternativo
Alveolitis - Alveolite
Ambulant Treatment, Out-Patient Treatment - Tratamento Ambulatório
Ambulatory - Ambulatório
Amebiasis - Amebíase
Amebic Dysentery - Desinteria Amebiana
Aminotransferase - Aminotransferase
Amnesia - Amnésia
Amplicilline - Ampicilina
Amputation - Amputação
Amygdala - Amígdalas Cerebelosas
Anaphylactic Reaction - Reacção Anafilática
Anaphylaxy - Anafilaxia
Anastomosis - Anastomose
Ancylostoma - Ancilostoma
Anditote - Antídoto
Anemia - Anemia
Aneurysm - Aneurisma
Angina Pectoris - Angina de Peito
Angiomatosis - Angiomatose
Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) - Enzima Conversor da Angiotensina (ECA)
Anomaly, Abnormality - Anomalia
Anterior Cruciate Ligament (ACL) - Ligamento Cruzado Anterior
Anthrax - Carbúnculo
Anthropozoonosis - Antropozoonose
Antibiogram - Antibiograma
Antibiotic - Antibiótico
Antibiotic Therapy - Antibioterapia
Anticoagulant - Anticoagulante
Anticorps - Anticorpo
Antidiabetic - Antidiabético
Antiemetics - Antieméticos
Antigen - Antigénio
Antigenaemia; Antigenemia - Antigenemia
Anti-Inflammatory - Anti-Inflamatório
Antimalarial - Antimalárico
Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibody (ANCA) - Anticorpo Anti-Citoplasma de Neutrófilos
Anti-Nuclear Antibody (ANA) - Anticorpos Anti-Nucleares
Antioxydant - Antioxidante
Antipyretic - Antipirético
Antisepsis - Anti-Sepsia
Antitoxic Immunity - Imunidade Anti-Tóxica
Aortic Aneurysm - Aneurisma Aórtico
Aortic Arch Anomalies - Anomalia Cardiovascular
Aortic Tear - Dissecção da Aorta
Aplasia - Aplasia
Apoptosis - Apoptose
Appendicectomy; Appendectomy - Apendicectomia
Appendicite - Apendicite
Apyretic - Apirético
Apyrexia - Apirexia
Arbovirosis - Arbovirose
Arnold Chiari Malformation - Malformação de Chiari
Arrhytmia - Arritmia
Arterial Hypotension - Hipotensão Arterial
Arterial Tension, Blood Pressure, Arterial Pressure - Pressão Arterial
Arteritis - Arterite
Arthralgie - Artralgia
Arthritis - Artrite
Arthroplasty - Artroplastia
Ascariasis - Ascaríase
Ascarid; Maw-Worm; Roundworm - Ascarídeo
Ascaridiosis; Ascariosis - Ascaridiose
Ascaris Lumbricoides - Ascaris Lumbricóides
Ascites - Ascite
Asepsis - Assepsia
Aseptic Meningitis; Acute Aseptic Meningitis - Meningite Asséptica ou Viral
Aspartate Transaminase (AST) - Aspartato Aminotransferase
Aspergilloma - Aspergiloma
Aspirin - Aspirina
Asplenia - Asplenia
Asthénie - Astenia
Asthma - Asma
Astrocyte - Astrócito
Ataxia - Ataxia
Athérosclérose - Doença Aterosclerótica
Atherosclerosis - Aterosclerose
Atrial Fibrillation - Fibrilhação Auricular
Atrial Systole - Contracção Auricular
Atrium - Aurícula
Atypical Mycobacteria - Micobacteria Atípica
Auscultation - Auscultação
Autodiagnosis - Auto-Diagnóstico
Autopsy, Necropsy - Autópsia
Axillary Temperature - Temperatura Axilar
B
B cell - Células ou Linfócitos B
Bacilloscopy - Baciloscopia
Bacillus - Bacilo
Bacterial Genome - Genoma Bacteriano
Bacteriemia - Bacteriemia
Bacterium - Bactéria
Bartonellosis - Bartonelose
Base Pairs (bp) - Pares de Bases (pb)
Becks Triad - Tríade Cognitiva ou de Beck
Beta Blockers - Bloqueadores-Beta
Bilharziosis - Bilharziose
Biliary Cirrhosis (Primary) - Cirrose Biliar Primária
Bilirubin - Bilirubina
Biomicroscopy - Biomicroscopia
Biopsy - Biópsia
Blackwater Fever - Febre Biliosa Hemoglobinurica
Blindness - Cegueira
Blood Bank - Banco de Sangue
Blood Coagulation - Coagulação Sanguínea
Blood Donor - Doador de Sangue
Blood Group - Grupo Sanguíneo
Blood Sample - Amostra de Sangue
Blood Test - Exame de Sangue
Blood Transfusion - Transfusão Sanguínea
Blood Urea Nitrogen (BUN) - Azoto Ureico no Sangue
Body Temperature - Temperatura Corporal
Bone Marrow - Medula Óssea
Bone Marrow Biopsy - Biópsia Óssea
Booster Dose - Dose de Reforço
Borreliosis - Borreliose
Boutonneuse Fever - Febre Escaro-Nodular
Bradycardia - Bradicardia
Brain Concussion; Head Trauma - Traumatismo Craniano
Brain Stem - Tronco Cerebral
Breast Cancer, Mammary Cancer - Cancro da Mama
Breast Feeding - Amamentação
Breast Tumor - Tumor da Mama
Brocas Area - Área de Broca
Bronchiolitis - Bronquiolite
Bronchitis - Bronquite
Bronchopleural Fistula - Fístula Bronco-Pleural
Bronchopneumonia - Broncopneumonia
Bronchoscopy - Broncoscopia
Brucellosis - Brucelose
Burkitts Lymphoma - Linfoma de Burkitt
C
Cancer - Cancro
Cancroid - Cancróide
Capsular Antigen - Antigénio Capsular
Carcinoma - Carcinoma
Carcinomatosis - Carcinomatose
Cardiac Arrest - Paragem Cardíaca
Cardiac Dysrhythmia - Disritmia Cardíaca
Cardiac Failure - Insuficiência Cardíaca
Cardiac Surgery - Cirurgia Cardíaca
Cardiac Tamponade - Tamponamento Cardíaco
Cardiologist - Cardiologista
Cardiopathy - Cardiopatia
Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) - Ressuscitação ou Reanimação Cardiopulmonar
Cataract - Catarata
Catheter - Cateter
Catheterization - Cateterismo
Cavernous Synus - Seio Cavernoso
Cell Culture - Cultura Celular
Cellular Immunity - Imunidade Celular
Central Venous Pressure - Pressão Venosa Central
Cephalalgia - Cefaleia
Ceratitis - Ceratite
Cerebellar Ataxia - Ataxia Cerebelar
Cerebral Abscess - Abcesso Cerebral
Cerebral Ataxia - Ataxia Cerebral
Cerebral Cortex - Córtex Cerebral
Cerebral Hemorrhage - Hemorragia Cerebral
Cerebral Malaria - Malária Cerebral
Cerebral Oedema - Edema Cerebral
Cerebral Thrombosis - Trombose Cerebral
Cerebro-Spinal Fluid (CSF) - Líquido Cefalorraquidiano (LCR)
Cervitis - Cervicite
Cesarean Section - Cesariana
Chagas Disease; Chagas-Cruz Disease - Doença de Chagas
Chancroid - Cancro Mole
Check-Up - Exame Completo
Cheilitis - Queilite
Chemoprophylaxis - Quimioprofilaxia
Chemotherapy - Quimioterapia
Childbed Fever - Infecção Puerperal
Childbirth - Parto
Childrens Disease - Doença Infantil
Cholangitis - Colangite ou Angiocolite
Cholecystectomy - Colecistectomia
Cholera - Cólera
Cholestasis; Cholestasia - Colestase
Cholesterol - Colesterol
Chronic Active Hepatitis - Hepatite Crónica Activa
Chronic Bronchitis - Bronquite Crónica
Chronic Disease - Doença Crónica
Chronic Hepatitis - Hepatite Crónica
Chronic Lymphocytic Leukemia - Leucemia Linfática Crónica
Chronic Toxicity - Toxicidade Crónica
Chronicity - Cronicidade
Circle of Willis - Polígono de Willis
Circulatory Collapse; Circulatory Failure - Colapso Circulatório
Circumcision - Circuncisão
Cirrhosis - Cirrose
Clinical Diagnosis - Diagnóstico Clínico
Clinical Examination - Exame Clínico
Cloning - Clonagem
Closed Chest Cardiac Massage - Massagem Cardíaca Externa
Coagulation - Coagulação
Codon - Codão
Colic - Cólica
Colitis - Colite
Collapse - Colapso
Colon Cancer - Cancro do Cólon
Colonoscopy - Colonoscopia
Coma - Coma
Combined Vaccine; Combination Vaccine - Vacina Combinada
Complete Blood Count (CBC) - Hemograma Completo
Compound Fracture; Open Fracture - Fractura Exposta
Compulsory Vaccination - Vacinação Obrigatória
Computed (Or Computerized) Axial Tomography - Tomografia Axial Computorizada (TAC)
Congenital Defect - Anomalia Congénita
Conjunctivitis - Conjuntivite
Connective Tissue - Tecido Conjuntivo
Consult - Consultar
Consultation - Consulta
Contagion - Contágio
Contagious Disease - Doença Contagiosa
Contagiousness - Contagiosidade
Contaminate - Contaminar
Contamination - Contaminação
Contraceptive - Contraceptivo
Contraceptive - Preservativo
Contract - Contrair
Contraindication - Contra-Indicação
Contusion - Contusão
Convulsion - Convulsão
Coronary Angioplasty - Angioplastia Coronária
Coronary Heart Disease - Doença Coronária
Coronary Thrombosis - Trombose Coronária
Corpus Callosum - Corpo Caloso
Cortical Blindness - Cegueira Cortical
Corticotherapy - Corticoterapia
Coryza; Nasal Catarrh; Common Cold - Coriza
Cough - Tosse
Creatinine - Creatinina
Crohns Disease - Doença de Crohn
Creatine Kinase - Creatinaquinase
Creatinine - Creatinina
Cryptococcosis - Criptococose
Curative Method - Tratamento Curativo
Cure, Healing, Recovering - Cura
Curettage - Curetagem
Cutaneous (Or Dermal) Leishmaniasis - Leishmaniose Cutânea
Cutaneous Tuberculosis - Tuberculose Cutânea
Cyanosis - Cianose
Cyst - Quisto
Cysticercosis - Cisticercose
Cystitis - Cistite
Cytokyne - Citocina ou Citoquina
Cytometry - Citometria
Cytotoxicity - Citotoxicidade
D
Daily Dose - Dose Diária
Decontamination - Descontaminação
Decortication - Descorticação
Definitive Host; Final Host - Hospedeiro Definitivo
Dehydratation - Desidratação
Dehydrate - Desidratar
Delta Hepatitis - Hepatite Delta
Dementia - Demência
Demyelination - Desmielinização
Denaturation - Desnaturação
Dengue - Dengue
Dental Abscess - Abcesso Dentário
Denutrition - Desnutrição
Dermatitis - Dermatite ou Dermite
Dermatosis - Dermatose
Desquamation - Descamação
Diabetes - Diabetes
Diabetes Mellitus - Diabetes Mellitus
Diagnose, Diagnosticate - Diagnosticar
Diagnosis, Diagnostic - Diagnóstico
Diarrhea - Diarreia
Diarrhheal Diseases - Doença Diarreica
Diastasis - Diástase
Diastole - Diástole
Diffuse Lymphoma - Linfoma Difuso
Digestive Tube - Tubo Digestivo
Dilatation - Dilatação
Dilatation Of The Heart - Dilatação Cardíaca
Dilated (Congestive) Cardiomyopathy - Cardiomiopatia Dilatada
Diphteria - Difteria
Disciform Keratitis - Ceratite Disciforme
Disease - Doença
Disinfection - Desinfecção
Disinfestation - Desinfestação
Disseminated (Or Diffuse) Intravascular Coagulation - Coagulação Intravascular Disseminada
Dissemination - Disseminação
Diuresis - Diurese
Diuretic - Diurético
Donor - Doador
Dopamine - Dopamina
Dopaminergic Pathways - Feixes Dopaminérgicos
Dosage - Doseamento
Dose - Dose
Dracontiasis - Dracunculose
Drain - Dreno
Drainage - Drenagem
Drug - Droga
Drug, Medicine - Medicamento
Dumd Rabies; Paralytic Rabies - Raiva Paralítica
Duodenal Ulcer - Úlcera Duodenal
Dysarthria - Disartria
Dysphagia - Disfagia
Dyspnea - Dispneia
E
Ebola - Ébola
Ebola Hemorrhagic Fever - Febre Hemorrágica do Ébola
Echinococcosis - Equinococose
Echocardiogram - Ecocardiograma
Echography - Ecografia
Ectasia - Ectasia
Ectopic Pregnancy - Gravidez Ectópica
Eczema - Eczema
Edema - Edema
Eelworm - Verme
Effect - Efeito
Effusion - Derrame
Electron Microscopy - Microscopia Electrónica
Embolism - Embolia
Embolization - Embolização
Emergency Treatment - Tratamento de Emergência
Empyème - Empiema
Encephalitis - Encefalite
Encephalopathy - Encefalopatia
Endamebic Abscess, Entamebic Abscess - Abcesso Amebiano
Endemic Goiter - Bócio Endémico
Endemic Zone - Zona de Endemia
Endemicity - Endemicidade
Endocarditis - Endocardite
Endoscopy - Endoscopia
Endotoxin - Endotoxina
Enteritis - Enterite
Enterobiasis - Enterobíase
Enzima - Enzima
Ependymal Zone - Zona de Epidemia
Epidemic - Epidemia
Epidemic Typhus; European Typhus; Exanthemic Typhus - Tifo Epidémico
Epidemiology - Epidemiologia
Epidermis - Epiderme
Epiglottitis - Epiglotite
Epilepsy - Epilepsia
Epinephrine, Adrenalin - Adrenalina
Epiphyseal Plate - Placa Epifisária ou de Crescimento
Episcleritis - Episclerite
Epithelial Cell - Célula Epitelial
Eradication - Erradicação
Erythema - Eritema
Erythema Annulare Centrifugum - Eritema Anular Centrifugum
Erythema Migrans - Eritema Migrans
Erythrocyte - Hemácia
Esophagitis - Esofagite
Esophagogram - Esofagograma
Etiologic Diagnosis - Diagnóstico Etiológico
Etiology - Etiologia
Etiopathology - Etiopatogenia
Examination - Exame
Expectoration - Expectoração
Exploratory Laparotomy (EX LAP) - Laparotomia Exploratória
Extrapulmonary Tuberculosis - Tuberculose Extra-Pulmonar
F
Falciform Anemia - Anemia Falciforme
Falciparum Malaria - Malária Falciparum
Fallopian Tube - Trompa de Falópio
Familial Immunity; Genetic Immunity - Imunidade Genética
Fascioliasis - Fasciolíase
Febricule - Febrícula
Febrile Convulsions - Convulsão Febril
Fecal Contamination - Contaminação Fecal
Fecal Culture - Coprocultura
Fecal-Oral Transmission - Transmissão Fecal-Oral
Fecundity - Fertilidade
Fetal Distress - Sofrimento Fetal
Fetus - Feto
Fever - Febre
Fiberoptic Bronchoscopy - Broncofibroscopia
Fibrinogen - Fibrinogénio
Fibrinolysis - Fibrinólise
Fibrosis - Fibrose
Filariasis - Filariose
Fistula - Fístula
Fistulization - Fistulização
Flavivirus - Flavivírus
Fluke - Fascíola
Fluorescence Microscopy - Microscopia de Fluorescência
Focus - Foco
Food Sanitation - Higiene Alimentar
Fossa - Fossa
Fractional Dose - Dose Fraccionada
Fracture - Fractura
French Brauduche; French Letter; Male Condom - Preservativo Masculino
Fresh Frozen Plasma (FFP) - Plasma Fresco Congelado
Fulminant Hepatitis; Fulminanting Hepatitis - Hepatite Fulminante
Funiculitis - Funiculite
Furuncle - Furúnculo
G
Gallbladder - Vesícula Biliar
Gallstone - Colelitíase
Gamma Glutamyl Transpeptidase (GGT) - Gama Glutamil Transferase
Gangrene - Gangrena
Gastrectomy - Gastrectomia
Gastroenteritis - Gastrenterite
Gastrointestinal Hemorrhage - Hemorragia Gastrointestinal
Gelose - Gelose
Gene - Gene
General Anesthesia - Anestesia Geral
Generic Medicament - Medicamento Genérico
Genome - Genoma
Gestation - Gestação
Giardiasis - Giardíase
Glossitis - Glossite
Glucose - Glicose
Glycolipid - Glicolípido
Glycolysis - Glicólise
Goiter - Bócio
Gonorrhea - Gonorreia
Gonorrhea - Blenorragia
Graft - Transplante
Graft - Enxerto
Gravida - Grávida
Greater Omentum - Grande Epiploon ou Epiploon Gastro-Cólico
Gynecologist - Ginecologista
Gynecomastia - Ginecomastia
H
Haemagglutination - Hemaglutinação
Haemophiliac - Hemofílico
Halofantrine - Halofantrina
Hantavirus - Hantavírus
Haptoglobin - Haptoglobina
Heal - Curar
Health Education - Educação Sanitária
Heart Disease - Doença Cardiovascular
Helminthiasis - Helmintíase
Hematology - Hematologia
Hemiparesis - Hemiparesia
Hemiplegia - Hemiplegia
Hemochromatosis - Hemocromatose
Hemoculture - Hemocultura
Hemodialized - Hemodialisado
Hemodialysis - Hemodiálise
Hemoglobinopathy - Hemoglobinopatia
Hemoglobinuric Fever - Febre Hemoglobinúrica
Hemogram - Hemograma
Hemolysis - Hemólise
Hemolytic Anemia - Anemia Hemolítica
Hemopathy - Hemopatia
Hemopericardium - Hemopericárdio
Hemophilia - Hemofilia
Hemoptysis - Hemoptise
Hemorrhage - Hemorragia
Hemorrhagic Dengue - Dengue Hemorrágico
Hemorrhagic Fevers - Febre Hemorrágica
Hemorrhagic Stroke - AVC Hemorrágico
Hemothorax - Hemotórax
Heparin - Heparina
Hepatectomy - Hepatectomia
Hepatic Cell - Célula Hepática
Hepatic Dysfuntion - Disfunção Hepática
Hepatic Encephalopathy - Encefalopatia Hepática
Hepatic Failure Acute - Insuficiência Hepática Aguda
Hepatic Insufficiency - Insuficiência Hepática
Hepatic Peliosis - Peliose Hepática
Hepatitis - Hepatite
Hepatocellular Carcinoma - Carcinoma Hepatocelular
Hepatocellular Failure - Insuficiência Hepatocelular
Hepatomegaly - Hepatomegalia
Hepatotropic Viri - Vírus Hepatotrópico
Hernia - Hérnia
Herpes Genitalis - Herpes Genital
Herpes Simplex - Herpes Simplex
Herpes Zoster - Herpes Zoster ou Zona
Herpesvirus - Herpesvírus
Herpetic Keratitis - Ceratite Herpética
Hilar Lymph Node - Gânglios Linfáticos Hilares
Hipoxia - Hipoxemia ou Hipoxia
HIV (Human Immunodeficiency Virus) - VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana)
Hiv Infection - Infecção VIH
Homoeostasis; Homestasis - Homeostasia
Hormone - Hormona
Hospital - Hospital
Hospital Hygiene - Higiene Hospitalar
Hospitalization - Hospitalização
Hospitalize - Hospitalizar
Host - Hospedeiro
Humoral Immunity - Imunidade Humoral
Hunger - Fome
Hybridization - Hibridização
Hydatid Cyste - Quisto Hidático
Hydatidosis - Hidatidose
Hydrocephalus - Hidrocefalia
Hydrodiarrhoea - Diarreia Aquosa
Hygiene - Higiene
Hypercytosis - Hipercitose
Hyperemia Of The Conjunctiva - Hiperemia Conjuntival
Hyperendemia - Hiperendemia
Hyperendemic Area - Área Hiperendémica
Hyperinsulinemia - Hiperinsulinemia
Hyperleukocytosis - Hiperleucocitose
Hyperparasitemia - Hiperparasitemia
Hyperplasia - Hiperplasia
Hyperpyrexia - Hiperpirexia
Hypersecretion - Hipersecreção
Hypersensitivity Reaction - Reacção de Hipersensibilidade
Hypertension - Hipertensão
Hyperthermia - Hipertermia
Hypertonicity - Hipertonicidade
Hypertrophy - Hipertrofia
Hypoacusia; Hypoacusis - Hipoacusia
Hypocalcemia - Hipocalcemia
Hypocapnie - Hipocapnia
Hypochromia - Hipocromia
Hypo-Endemia - Hipoendemia
Hypoglycemia - Hipoglicemia
Hypoplasie - Hipoplasia
Hypotension - Hipotensão
Hypothermia - Hipotermia
Hypotonia - Hipotonia
Hypotonic - Hipotónico
Hypovolemia - Hipovolemia
I
Iatrogeny - Iatrogenia
Icterus, Jaundice - Icterícia
Ileus, Intestinal Obstruction - Oclusão Intestinal
Ill - Doente
Immunity - Imunidade
Immunocompromised - Imunocomprometido
Immunodepression; Immune Depression - Imunosupressão
Immunodiffusion - Imunodifusão
Immunoglobulin (IG) - Imunoglobulina
Immunotherapy - Imunoterapia
Inchemia - Isquémia
Incubation - Incubação
Infant Mortality - Mortalidade Infantil
Infantile Diarrhea, Infantile Diarrhoea - Diarreia Infantil
Infection - Infecção
Infectious Disease - Doença Infecciosa
Infectious Endocarditis - Endocardite Infecciosa
Infectious Hepatitis - Hepatite Infecciosa
Infectious Hepatitis - Hepatite Vírica
Infective Asthma - Asma Infecciosa
Infectivity; Infectiosity - Infecciosidade
Infertility; Intersterility - Infertilidade
Infestação - Infestação
Infirmary - Enfermaria
Inflammation - Inflamação
Influenza Virus - Vírus Influenza
Influenza, Flu - Gripe
Infusion - Infusão
Ingestion - Ingestão
Inhalation - Inalação
Inhibition - Inibição
Initial Dose; Starting Dose - Dose Inicial
Injection - Injecção
Inoculation - Inoculação
Insolation - Insolação
Insulin - Insulina
Insulin Resistance - Resistência à Insulina
Interferon - Interferão
Intermittent Fever - Febre Intermitente
Internation - Internamento
Internist - Internista
Intestinal Mucosa - Mucosa Intestinal
Intestinal Obstruction - Obstrução Intestinal
Intestinal Parasite; Parasitic Worn - Parasita Intestinal
Intoxication - Intoxicação
Intrathecal - Intratecal
Intramuscular (I.M.) Injection - Injecção Intra-Muscular
Intravenous Injection - Injecção Endovenosa
Isovolumic Contraction - Contracção Isovolumétrica
Isovolumic Relaxation - Relaxamento Isovolumétrico
J
Japanese Encephalitis - Encefalite Japonesa
Jugular Venous Pressure (JVP) - Pressão Venosa Jugular
Jungle Yellow Fever - Febre Amarela Silvática
Juvenile Paralysis - Paralisia Infantil
K
Ketogenesis - Cetogénese
Kinesitherapy - Cinesiterapia
Kochs Bacillus - Bacilo de Kock
Kupffers Cell - Célula de Kupffer
L
Laboratory Diagnosis - Diagnóstico Laboratorial
Labyrinthitis - Labirintite
Lactic Acidosis - Acidose Láctica
Lacunar Infarct - Enfarte Lacunar
Laminectomy - Laminectomia
Laparotomy - Laparotomia
Laps/Lap Sponges - Compressas Abdominais
Large Doses; High Doses - Dose Elevada
Laryngitis - Laringite
Lassa Fever - Febre de Lassa
Latency - Latência
Latrine; Cesspool - Latrina
Leishmania - Leishmania
Leprosy - Lepra
Leptospirosis - Leptospirose
Lesion - Lesão
Lesser Omentum - Pequeno Epiploon ou Epiploon Gastro-Hepático
Lethality - Letalidade
Lethargy - Letargia
Leucémie - Leucemia
Leukocyte - Leucócito
Leukocytosis - Leucocitose
Leukopenia - Leucopenia
Leukorrhea - Leucorreia
Limbic System - Sistema Límbico
Listeriosis - Listeriose
Lithiasis - Litíase
Liver Abscess - Abcesso Hepático
Liver Biopsy - Biópsia Hepática
Liver Damage - Lesão Hepática
Liver Transplant - Transplantação Hepática
Lobectomy - Lobectomia
Low-Grade Fever - Febre Baixa
Lumbar Puncture (LP or Tap) - Punção Lombar
Lung (Carcinoma Of) - Cancro do Pulmão
Lupus - Lúpus
Lyme Disease - Doença de Lyme
Lymfoma - Linfoma
Lymph Node - Gânglio Linfático
Lymphadenopathy - Linfadenopatia
Lymphangitis - Linfangite
Lymphatic Filariasis - Filaríase ou Filariose Linfática
Lymphedema - Linfedema
Lymphocytes - Linfócitos
Lymphocytic Alveolitis - Alveolite Linfocítica
Lymphocytosis - Linfocitose
M
Malaria -Malária ou Paludismo
Malaria Parasite - Parasita Malárico
Malignancy - Malignidade
Malnutrition - Malnutrição
Mammography - Mamografia
Marasmus - Marasmo
Marsupialization - Marsupialização
Mast Cell - Mastócito
Mastectomy - Mastectomia
Mastoidectomy - Mastoidectomia
Maternity Ward - Maternidade
Mediastinum - Mediastino
Medical Care; Medical Aid - Assistência Médica
Medical Certificate - Atestado Médico
Medical Examination - Exame Médico
Medical Pathology - Patologia Médica
Medical Products - Material Médico
Medical Treatment - Tratamento Médico
Medicament - Fármaco
Medication - Medicação
Medicinal Prescription - Receita Médica
Medullary Aplasia - Aplasia Medular
Membrane - Membrana
Meningitis - Meningite
Meningococcal (Or Meningococcic) Meningittis - Meningite Meningocócica
Menstruation - Menstruação
Metabolic Acidosis - Acidose Metabólica
Metastatization - Metastização
Microbe - Micróbio
Microbiologic Examination - Exame Microbiológico
Microorganism - Microorganismo
Microradiographie - Microrradiografia
Microscopy - Microscopia
Miliary Tuberculosis - Tuberculose Miliar
Mitosis - Mitose
Mitral Valve - Válvula Mitral
Monoclonal Antibodies - Anticorpo Monoclonal
Monovalent Vaccine - Vacina Monovalente
Mortality - Mortalidade
Mosquito - Mosquito
Mucosa - Mucosa
Multiple Gated Acquisition Scan (MUGA) - Angiografia de Múltipla Entrada
Multiple Sclerosis - Esclerose Múltipla
Mumps - Papeira
Murine Typhus - Tifo Murino
Muscle Spasm, Muscle Cramp - Espasmo Muscular
Muscular Tonus - Tónus Muscular
Mutation - Mutação
Myalgia - Mialgia
Mycobacteria - Micobactéria
Mycotic Aneurysm - Aneurisma Micótico
Myelodysplasia - Mielodisplasia
Myelogram - Mielograma
Myelomeningocele - Mielomenigocelo
Myelotomy - Mielotomia
Myocardial Failure - Insuficiência Miocárdica
Myocardial Infarction - Enfarte do Miocárdio
Myocarditis - Miocardite
Myocardium - Miocárdio
Myoglobin - Mioglobina
Myopathy - Miopatia
Myopericarditis - Miopericardite
Myositis - Miosite
N
Nasopharynge - Nasofaringe
Natality - Natalidade
Natural Orifices Translumenal Endoscopic Surgery (NOTES) - Cirurgia Endoscópica Transluminal por Orifícios Naturais
Nausea - Náusea
Necrosis - Necrose
Necrotizing Vasculitis - Vasculite Necrotizante
Neonatal Mortality - Mortalidade Neonatal
Neoplasia - Neoplasia
Nervous Tissue; Nerve Tissue; Neural Tissue - Tecido Nervoso
Neurogenic - Neurogénico
Neuropathy - Neuropatia
Neurosurgery - Neurocirurgia
Neutralize - Neutralizar
Neutralizing Antibody - Anticorpo Neutralizante
Neutropenia - Neutropenia
Neutrophilia - Neutrofilia
Newly-Born Child - Recém-Nascido
Nodulectomy - Nodulectomia
Non-Hodgkin Lymphoma - Linfoma Não Hodgkin
Nurse - Enfermeira
Nutrition - Nutrição
Nutritional Rehabilitation - Recuperação Nutricional
Nystagmus - Nistagmo
O
Obnubilation - Obnubilação
Obstetric Sonography - Ecografia
Obstetrics - Obstetrícia
Obstipation; Constipation - Obstipação
Obstruction - Obstrução
Obstructive Hydrocephalus - Hidrocefalia Obstrutiva
Odynophagia - Odinofagia
Oligloclonal Bands - Bandas Oligoclonais
Onchocerciasis - Oncocercose
Ophtalmologist - Oftalmologista
Ophthalmic Surgery - Cirurgia Oftalmológica
Opportunistic Infection - Infecção Oportunista
Optic Neuritis; Neuritis Of The Optic Nerve - Nevrite Óptica
Optic Nerve - Nervo Óptico
Optical Microscopy - Microscopia Óptica
Oral Antidiabetic - Antidiabético Oral
Oral Vaccine - Vacina Oral
Organ Graft - Transplante de Órgão
Oropharynx - Orofaringe
Osteomyelitis - Osteomielite
Osteotomy - Osteotomia
Otalgia - Otalgia
Otitis - Otite
Otomastoiditis - Otomastoidite
P
Palpation -Palpação
Pancreatic Diabetes - Diabetes Pancreática
Pancreatic Duct - Canal Pancreático ou de Wirsung
Pancreatitis - Pancreatite
Pandemic - Pandemia
Papillotomy; Papillectomy - Papilotomia
Pappilledema - Papiledema
Paralysis - Paralisia
Paramedical - Paramédico
Pararhythmia, Dysrhythmia - Disritmia
Parasite - Parasita
Parasitemia - Parasitemia
Parasitic Disease - Doença Parasitária
Parasitosis - Parasitose
Paresis - Paresia
Parathyroid Gland - Paratireóide
Parotiditis - Parotidite
Patellar Tendon (Or Ligament) - Tendão ou Ligamento Rotuliano
Pathogenesis - Patogénese
Pathogenic Agent - Agente Patogénico
Pathogenicity - Patogenicidade
Pathogeny - Patogenia
Pathology - Patologia
Patient - Paciente
Pediatrics - Pediatria
Penicillin - Penicilina
Peptic Ulcer - Úlcera Péptica
Perfusion - Perfusão
Pericardial Effusion - Derrame Pericárdico
Pericarditis - Pericardite
Perimetry - Perimetria
Peripheral Neurophaty - Neuropatia Periférica
Peripheral Nervous System - Sistema Nervoso Periférico
Peritoneography - Peritoneografia
Peritoneum - Peritoneu
Peritonitis - Peritonite
Pertussis - Pertussis
Pertussis, Whopping Cough - Tosse Convulsa
Pestis Bubonica - Peste Bubónica
Phagocytosis - Fagocitose
Pharmaceutical Industry - Indústria Farmacêutica
Pharmacy - Farmácia
Pharygitis - Faringite
Phospholipid Antibody - Anticorpos Anti-Fosfolípidos
Photophobia - Fotofobia
Physician - Médico
Physiophatology - Fisiopatologia
Physiotherapy - Fisioterapia
Pill - Pílula
Pituitary Gland - Glândula Pituitária ou Hipófise
Placenta - Placenta
Plasma - Plasma
Plasmin - Plasmina
Pleocytosis - Pleiocitose
Pleocytosis - Pleocitose
Pleural Biopsy; Pleural Needle Biopsy - Biópsia Pleural
Pleural Effusion - Derrame Pleural
Pleural Tuberculosis - Tuberculose Pleural
Pneumatocele - Pneumatocelo
Pneumocistose Pulmonar - Pneumocistose Pulmonar
Pneumococcal Infection - Infecção Pneumocócica
Pneumocystosis - Pneumocistose
Pneumonia - Pneumonia
Poliomielitis; Poliomyelitis - Poliomielite
Poliovirus - Poliovírus
Polychemotherapy - Poliquimioterapia
Polymerase Chain Reaction (Pcr) - Reacção de Polimerização em Cadeia (Pcr)
Polyneuritis - Polinevrite
Polyneuropathy - Polineuropatia
Polypnea - Polipneia
Posology - Posologia
Postabortal Infection - Infecção Pós-Aborto
Potable Water - Água Potável
Premature Calving; Preterm Delievery - Parto Prematuro
Preservation Of Vaccines - Conservação das Vacinas
Prevent - Prevenir
Prevention - Prevenção
Primary Health Care - Cuidados de Saúde Primário
Primary Infection - Infecção Primária
Primary Prophylaxis - Profilaxia Primária
Primary Resistance - Resistência Primária
Profound Coma - Coma Profundo
Prognosis - Prognóstico
Prophylaxis - Profilaxia
Prostate (Carcinoma Of) - Cancro da Próstata
Prostatitis - Prostatite
Prothesis - Prótese
Psittacosis - Psitacose
Psychosis - Psicose
Pulmonary Aspergilosis - Aspergilose Pulmonar
Pulmonary Chest X-Ray; Chest X-Rays - Radiografia do Tórax
Pulmonary Distomatosis - Distomatose Pulmonar
Pulmonary Edema - Edema Pulmonar
Pulmonary Embolism - Embolia Pulmonar
Pulmonary Hypertension - Hipertensão Pulmonar
Pulmonary Tuberculosis - Tuberculose Pulmonar
Pupil - Pupila
Putrid Bronchitis; Suppurative Bronchitis - Bronquite Purulenta
Pyomyositis - Piomiosite
Q
Quadriceps - Quadricípede Crural
R
Rabies - Raiva
Rabies Virus - Vírus da Raiva
Radiation - Radiação
Radical Mastectomy - Mastectomia Radical
Radiography - Radiografia
Radiology - Radiologia
Radiotherapy - Radioterapia
Rapid Eye Movement (REM) - Movimento Rápido dos Olhos
Rapid Inflow - Enchimento Rápido
Rectitis - Rectite
Relapsing Fever - Febre Recorrente
Renal Failure - Insuficiência Renal
Renal Failure Acute - Insuficiência Renal Aguda
Renal Failure Chronic - Insuficiência Renal Crónica
Respiratory Failure; Respiratory Impairment; Respiratory Ailment - Insuficiência Respiratória
Retina - Retina
Retinitis - Retinite
Retinopathy - Retinopatia
Retrovirus - Retrovírus
Revaccination - Revacinação
Rheumatic Fever - Febre Reumática
Rheumatoid - Reumatóide
Rheumatoid Arthritis - Artrite Reumatóide
Rickettsia - Rickettsia
Rickettsia Prowazekii - Rickettsia Prowaseki
Rickettsia Typhi - Rickettsia Typhi
Rickettsiaceae - Rickettsiaceae
River Blindness - Cegueira dos Rios
Rubella - Rubéola
S
Sample -Amostra
Sampling - Amostragem
Sanatorium For Children - Hospital Pediátrico
Sanitary Room - Posto de Saúde
Savage Poliovirus - Poliovírus Selvagem
Scabies - Escabiose
Scarlet Fever - Escarlatina
Schistasis; Fissuration - Fissuração
Scleritis - Esclerite
Sclerosis - Esclerose
Secondary Infection - Infecção Secundária
Secretion Of Urine - Excreção Urinária
Self-Medication - Auto-Medicação
Serogical Test - Exame Serológico
Serological Test - Teste Serológico
Serum Diagnosis - Diagnóstico Serológico
Sexually Transmitted Diseases - Doença Sexualmente Transmitida
Sickle Cell Anemia - Drepanocitose
Sickle-Cell Anemia - Anemia de Célula Falciforme
Side Effect - Efeito Colateral
Side Effect - Efeito Secundário
Single Dose - Dose Única
Sinus Node - Nódulo Sinusal
Sinus Tachycardia - Taquicardia Sinusal
Skin (Carcinoma Of) - Cancro da Pele
Skin Biopsy - Biópsia Cutânea
Smallpox, Variola - Varíola
Snow Blindness - Cegueira da Neve
Somatic Antigen - Antigénio Somático
Spasm - Espasmo
Specialist - Especialista
Specific Immunity - Imunidade Específica
Specific Treatment - Tratamento Específico
Spherocytosis - Esferocitose
Splenectomy - Esplenectomia
Spondylodiskitis - Espondilodiscite
Spontaneous Abortion - Aborto Espontâneo
Sporogony - Esporogonia
Staphylococcal Pneumonia - Pneumonia Estafilocócica
Sterilization - Esterilização
Steroid - Esteróide
Stethoscope - Estetoscópio
Stomatitis - Estomatite
Stool - Fezes
Strain - Estirpe
Strength, Dosage - Dosagem
Subcortical Dementia - Demência Subcortical
Surgeon - Cirurgião
Surgery - Cirurgia
Surgical Drainage - Drenagem Cirúrgica
Systemic Vasculitis - Vasculite Sistémica
Systole - Sístole
Systolic Pressure; Systolic Blood Pressure - Pressão Sistólica
T
T cell - Linfócitos T
Tachycardia - Taquicardia
Tachypnea - Taquipneia
Tau Protein - Proteína Tau
Testosterone - Testosterona
Tetanus - Tétano
Tetanus Neonatorum; Tetanus Infantum - Tétano Neonatal
Tetanus Toxoid - Toxóide Tetânico
Tetanus Vaccine - Vacina Anti-Tetânica
Therapeutic Dose - Dose Terapêutica
Thérapeutique - Terapêutica
Therapeutist, Therapist - Terapeuta
Therapy - Terapia
Therapy, Treatment - Tratamento
Thrombocytopenia; Thrombopenia - Trombocitopenia
Thrombocytosis - Trombocitose
Thrombolysis - Trombólise
Thrombosis - Trombose
Thymus Gland - Timo
Thyroxine (T4) - Tiroxina
Tick - Carraça
Tiger Mosquito - Aedes Aegypti
Tomography - Tomografia
Tonsilitis - Amigdalite
Total Dose - Dose Total
Total Mastectomy - Mastectomia Total
Toxemia - Toxémia
Toxic Hepatitis - Hepatite Tóxica
Toxicity - Toxicidade
Toxicological Effect - Efeito Tóxico
Toxoid - Toxóide
Toxoplasma - Toxoplasma
Toxoplasmosis - Toxoplasmose
Trachoma - Tracoma
Transaminase - Transaminase
Transfusion - Transfusão
Transmission - Transmissão
Transplantation - Transplantação
Transudate - Transudado
Trauma - Trauma
Traumatism - Traumatismo
Traumatic Arrest - Paragem Cardíaca Traumática
Trichuriasis - Tricuríase
Tricuspid Valve - Válvula Tricúspide
Tropical Diabetes - Diabetes Tropical
Tropical Disease - Doença Tropical
Trypanosomiasis - Tripanossomíase
Tuberculin Tests; - Prova Tuberculínica
Tuberculoma - Tuberculoma
Tuberculosis - Tuberculose
Tuberculostatic - Tuberculostático
Tuberculous Meningitis - Meningite Tuberculosa
Tularemia - Tularemia
Tumefaction - Tumefacção
Tumor - Tumor
Tumor Cell - Célula Tumoral
Typhoid Fever - Febre Tifóide
Typhus - Tifo
U
Ulcer -Úlcera
Ulceration - Ulceração
Ulcerative Colitis - Colite Ulcerosa
Ulnar Nerve - Nervo Cubital
Ultrasonography - Ultra-Sonografia
Ultrasounds – v. Obstetric Sonography
Ultraviolet Radiation - Radiação Ultravioleta
Urethra - Uretra
Urine Culture - Urocultura
Uveitis - Uveíte
V
Vaccinate -Vacinar
Vaccination - Vacinação
Vaccination Card - Cartão de Vacinação
Vaccination Schedule - Calendário de Vacinação
Vaccine - Vacina
Vaginal Contraceptive - Preservativo Feminino
Vaginitis - Vaginite
Varicella, Chickenpox - Varicela
Vascular Lesion - Lesão Vascular
Vascularization - Vascularização
Vasculitis - Vasculite
Vasoconstriction - Vasoconstrição
Vasodilation; Vasodilatation - Vasodilatação
Vector Insects - Insecto Vector
Veneral Disease - Doença Venérea
Venous Thrombosis - Trombose Venosa
Ventricular Fibrillation (V-fib) - Fibrilhação Ventricular
Vesicle - Vesícula
Vesicular - Vesicular
Vibrio - Vibrião
Viral Capsid Antigen - Antigénio da Cápside Viral
Viral Hepatitis - Hepatite Viral
Viral Infection - Infecção Viral
Viral Pneumonia - Pneumonia Viral
Viremia - Viremia
Virology - Virologia
Virosis - Virose
Virulence - Virulência
Virus - Vírus
Vitrectomy - Vitrectomia
Vitreous Humour - Humor Vítreo1
Vivax Malaria - Malária Vivax
Vulvitis - Vulvite
W
Water Intoxication -Intoxicação Hídrica
Watery Stools - Fezes Líquidas
Wernickes Area - Área de Wernicke
Whipples Disease - Doença de Whipple
Wilms Tumor - Tumor de Wilms
Wilsons Disease - Doença de Wilson
World Health Organization (WHO) - Organização Mundial de Saúde (OMS)
Y
Yellow Fever -Febre Amarela
Z
Zoonosis -Zoonose